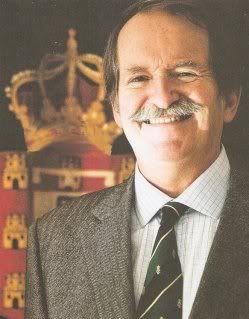2. Em Luanda, nesta Luanda de agora, não posso dar vazão ao meu prazer pelas livrarias, por várias razões: porque elas existem em número exíguo; porque as poucos que existem, nem sempre possuem o conforto que gosto de desfrutar; porque estacionar o meu carro em local próximo e seguro é já uma miragem.
3. No período colonial, em Luanda, havia não só livrarias consagradas, mas, igualmente, livreiros consagrados. Em muitos casos, os livreiros eram nossos cúmplices. Alguns desses livreiros tiveram um papel importante na minha tomada de consciência e no meu enriquecimento cultural. Houve livreiros que nos guardavam livros declaradamente proibidos, ou que tornavam suspeito quem os lesse. Tínhamos a Lello, o Centro do Livro Brasileiro, a Argente Santos, a Minerva, quer a da Baixa, quer a do São Paulo.
4. Herdámos do nosso pai e da nossa mãe o hábito da leitura e o respeito pelos livros. Qualquer um deles possuía os seus próprios livros. Por isso, fui assíduo utilizador dos livros da Biblioteca da Câmara e também da Biblioteca do Liceu Salvador Correia, onde estudei. Mantive esse estilo de vida, enquanto vivi em Lisboa. Daí o meu carinho especial pela Buchholz.
5. A Buchholz teve sempre frequentadores de referência. Por norma, eram homens e mulheres da sociedade portuguesa: políticos, gente de cultura, académicos, também gente ligada a profissões liberais. Foi também muito requisitada por estudantes do ensino superior. Antes de frequentar a Buchholz, eu já ouvira falar dela como uma livraria de referência. Tinha, pois, um enorme simbolismo.
6. A Livraria Buchholz não estava muito exposta. Estava recatada, quase sobre a esquina da Rua Duque de Palmela, na Baixa da cidade. Era emblemática. Dentro da Buchholz respirava-se conforto e serenidade. Um ponto de encontro seguro. Depois, procurava-se um outro local para trocar um bom dedo de conversa, geralmente nos seus arredores. Ou então, caminhava-se num qualquer dos sentidos da Avenida dos Restauradores. Fiz isso algumas vezes.
7. Quando alguém me perguntasse onde nos poderíamos encontrar, em função do interlocutor e da conversa, eu escolhia o local. Se fosse alguém com os mesmos interesses intelectuais e científicos que eu, a resposta era quase inevitável: "Na Buchholz, na Duque de Palmela. Depois, logo se vê para onde vamos!"
8. Foi na Buchholz que estive com o Mário Pinto de Andrade, no nosso derradeiro encontro, poucos dias antes da sua morte. Eu, o Mário, o Vicente. Coube ao Mário escolher o local. Afinal, a Buchholz também exercia sobre ele um forte poder atractivo. Inclusive, o Mário era conhecido, e até mesmo amigo de algumas das suas empregadas. Registei, por exemplo, a excitação de uma delas, sua amiga de longa data, quando nos reconheceu como parentes. Também ficámos amigos, até hoje. Revelou a mim e ao Vicente que um dia esteve tentada a seguir o Mário, a ir trabalhar com ele, quando ocupou o cargo de Ministro da Informação e Cultura na Guiné-Bissau, no governo do também já falecido Luís Cabral. São memórias que perduram, que o tempo não apaga… Elas dão um sentido melancólico à vida, emprestado-lhe um singular significado.
9. Uma das características marcantes no Mário era a modéstia. Por isso, levou-nos a almoçar num restaurante relativamente simples, de classe média. O restaurante era ali mesmo junto da Buchholz – ficava do outro lado da rua. Comemos e falámos de muita coisa. Naturalmente, falámos de cultura, da família, de política. Trocámos informações. Esse meu último encontro com o Mário foi quase uma conspiração. Foi um encontro de velhos camaradas de trincheira política. Gente que partilhou cumplicidades.
10. Do ponto de vista anímico, o Mário estava bem, e parecia determinado a retomar o percurso político. Disse-nos que era a altura de fazermos de novo alguma coisa em conjunto. Assim, contribuiríamos, mais uma vez, para a pluralidade de ideias. Urgia, pois, criar um novo espaço democrático, retomar o perfil do MPLA original, reagrupar a gente sã que nele existia. O Mário queria a nossa opinião, queria saber se isso ainda tinha viabilidade, no novo contexto.
11. Aí estava novamente o Mário a convocar-nos, naquele que seria o seu derradeiro esforço. Traçámos projectos de intervenção. Parecia que, por dentro daquele corpo frágil, reemergia o espírito do leão. Por isso, senti uma tremenda comoção por vê-lo ali, firme, determinado, entusiasta, depois de ter feito tudo o que fez na vida… Ainda com vontade de retomar o percurso da nossa terra.
12. Voltámos à Buchholz para nos despedirmos das suas amigas. Seguimos, então, em busca de uma farmácia, porque o Mário sentia-se ligeiramente apoquentado. Era, aparentemente, um simples mal-estar que, disse-nos, estar a sentir desde que regressara de uma recente viagem de pesquisa nos Estados Unidos, onde estivera a investigar, para fundamentar os seus próximos trabalhos. Que o Embaixador de Angola, Manuel Pedro Pacavira, o convidara a almoçar em sua casa. Que, depois desse almoço, nunca mais se sentira bem. Era aquele mal-estar persistente… Que comprara também um computador portátil, pequeno, barato, mas muito prático, etc. Estávamos, pois, a caminho da farmácia, ali próximo, na subida da Bramcamp. Nós os três: eu, o Mário, o Vicente. Duas gerações separadas por cerca de 20 anos. Mas duas gerações unidas na causa. Para além do sangue…
13. Ainda tivemos um pouco de tempo para dar uma saltada até à Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII. Depois, o último adeus ao Mário. Até hoje…
14. Passados dias, o seu estado de saúde agravou-se. Foi hospitalizado no Egas Moniz, em Lisboa. Posteriormente, transferido para um hospital de Londres. E aí faleceu, dois ou três dias antes de fazer 62 anos de idade. Tudo isso aconteceu em Agosto de 1990. Para mim, este último encontro deu mais simbolismo à Livraria Buchholz.
15. Foi na Buchholz também que tomei conhecimento da vontade do Presidente da República, Eduardo dos Santos, de dotar o seu gabinete de livros de economia, penso que para servir de material de consulta para os seus assessores e colaboradores. Foi um seu assessor na época, meu ex-aluno na Universidade, que foi à Buchholz comprar livros, por especial recomendação de Eduardo dos Santos, segundo me disse. Fiquei satisfeito. Era bom que assessores de Eduardo dos Santos tivessem um mais fácil acesso aos livros, para melhor o ajudarem no entendimento da complexidade da matéria económica. Eis, pois, mais outro motivo para o simbolismo da Buchholz.
16. Priorizei sempre essa Livraria para me municiar de livros. Foi também lá que, de uma assentada, comprei os primeiros 15 livros de Direito para a minha filha Katila, quando ela ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Fiz-lhe, então, a recomendação de que deveria constituir a sua própria biblioteca. Que deveria cuidar dela, como se de um filho se tratasse. Ela ouviu-me e assim faz.
17. Para mim, a Livraria Buchholz é memória. Ela deixa saudades, marca um pouco o meu percurso intelectual e científico, tal como a Lello, o Centro do Livro Brasileiro, a Biblioteca da Câmara de Luanda.
18. A Buchholz não resistiu às incidências da crise mundial que abalou muitos bolsos e descomandou muitas contas. Por isso, ela faliu. No confronto inevitável entre as receitas e os encargos, perderam as receitas, e sobressaíram os encargos. Muitos clientes deixaram de poder honrar os seus compromissos. Desaparece, assim, a Buchholz, deixando uma fila enorme de credores e uma dívida de 1,3 milhões de euros.
19. Foi esse, pois, o destino de um dos emblemas da Lisboa Científica e Cultural, uma marca que ajudou a formar gerações. Não só gerações de portugueses mas, igualmente, gerações de angolanos e, seguramente, de outras nacionalidades.
20. Quando eu regressar a Lisboa, vou sentir a sua falta. Sei que o seu espaço vai continuar a ser uma Livraria da Coimbra Editora. Se mantiver o velho perfil, terei apenas que me habituar à sua nova denominação. Se não, terei que "emigrar" para um outro espaço da cidade, em busca do conforto espiritual que a Buchholz me transmitia.
21. Seguramente, daqui a muitos anos, talvez ela já não seja lembrada com este sentimento de perda. Afinal, a minha geração, e também as outras gerações passarão, tal como passou a geração do Mário Pinto de Andrade.